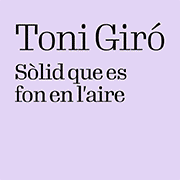Reportatges
Habitar o museu
Por ocasião do Dia Internacional dos Museus, uma reflexão crítica sobre o papel dos museus e a necessidade de repensar seus modelos e fundamentos.

“Onde está a arte?” alguns fãs e vários especialistas se perguntam diante de certas manifestações estéticas. Seus comentários tendem a oscilar entre a rejeição desinteressada e o interesse bem-intencionado em abordar novas propostas epistemológicas. Ambas as abordagens frequentemente se mostraram irreconciliáveis. Aqueles que defendem a tradição, em princípio, se oporiam àqueles interessados no que é novo. O debate tem suas raízes nas famosas querelas entre antigos e modernos, características dos séculos XVII e XVIII, período em que se proclamava da Europa a inevitabilidade de um conhecimento “científico”, universal e exclusivo. Nessa época, surgiram as academias e depois os museus, cuja missão era preservar e disseminar esse conhecimento. Eles decidiam o que era verdadeiro e o que era falso, e discriminavam a arte daquilo que não era. Ele poderia se transformar e evoluir, mas sua essência deveria permanecer inalterável, idêntica a si mesmo.
A disputa era favorecida, não a alteridade ou o questionamento, porque não havia um exterior. Toda alteridade foi subsumida em uma ordenação anterior. Os sucessivos movimentos de vanguarda europeus, como o fauvismo, o expressionismo ou o cubismo, inspiraram-se em máscaras, fetiches e tecidos da África, da América ou do Pacífico. Contudo, eles ignoraram as relações que ligavam as efígies aos rituais que lhes davam significado. Muitos desses objetos ficaram presos na categoria de “arte”, apesar de o termo nem sequer existir nas línguas dominantes desses povos.
 Denilson Baniwa, Kwema/ Amanhecer/Dawn, Biennal de São Paulo, 2023. Foto: Levi Fanan
Denilson Baniwa, Kwema/ Amanhecer/Dawn, Biennal de São Paulo, 2023. Foto: Levi Fanan
Com o tempo e seguindo a mesma dinâmica do capitalismo, que cresce gerando e superando suas próprias crises, os centros de arte se transformaram, adaptando-se ao seu entorno. Dessa forma, o museu do século XXI teria pouco a ver com o de cem anos atrás e muito menos com o de duzentos anos atrás. Bastaria comparar os autores que ali se apresentaram, os dispositivos expositivos que foram concebidos ou os públicos a que se destinavam na época com a frenética atividade atual para construir histórias mais inclusivas, instalações mais imersivas ou patrocinar o acesso a esses centros para quem não os tem. A presença de curadores indígenas ou racializados em eventos internacionais é cada vez mais importante. A Documenta de Kassel e as bienais de Veneza e São Paulo são dirigidas por curadores africanos ou afrodescendentes. Isso não poderia ser mais positivo. Mas as instituições artísticas realmente mudaram? A Bienal de Veneza continua a se basear em uma estrutura de pavilhões nacionais, como quando foi inaugurada em 30 de abril de 1895. No caso da Documenta, uma lei federal exige secretamente que seus diretores mantenham posições sionistas. Da mesma forma, os museus acolhem com entusiasmo o trabalho de comunidades indígenas, mas suas coleções continuam baseadas nos princípios de propriedade e acumulação. Nada poderia estar mais distante do passo leve e do desejo de compartilhar dessas pessoas.
Os museus operam em um contexto histórico específico. A nossa é marcada por uma onda neoconservadora que se espalha inexoravelmente pelo planeta. Líderes de extrema direita usam táticas e estratégias destinadas a manipular os cidadãos. No século XX, as festas e passeatas em espaços públicos eram a técnica privilegiada para mobilizar as massas; No século XXI, as paródias televisivas e o domínio das telas marcam o roteiro. A política se torna, em ambos os casos, um espetáculo. O objetivo deles: submeter-se de forma fascinante. Nesse sentido, os fascismos contemporâneos invocam os históricos. Dizia-se que Adolf Hitler era um "afetuoso falante". Os fascismos são ontologicamente paranoicos. Eles se apresentam como vítimas daqueles que atacam. Isso acontece com o que a ultramídia define como “marxismo cultural”, que engloba aqueles que defendem minorias, questionam e combatem o racismo, o heteropatriarcado, o colonialismo e o extrativismo. Estes são os culpados pelo suposto declínio do Ocidente: insegurança, desigualdade, falta de liberdades, burocratização, etc. O chamado “medo da substituição” está sendo exacerbado, a ideia absurda de que a civilização ocidental corre risco de extinção devido aos estrangeiros. Tudo isso com um único propósito: encobrir que a causa desses males é, na realidade, um regime oligopolístico que o fascismo protege.
[arquivo80836]
Marcel Broodthaers já argumentava na década de 1970 que a cultura é um campo de batalha, que sempre acontece em território inimigo. A extrema direita sabe disso muito bem e não se detém em seu esforço de impor o marco do debate, porque o fundamental não é se o que se afirma é verdadeiro ou falso, mas sim definir as diretrizes e o contexto em que o debate acontece. Daí a necessidade de levar em conta o lugar onde as afirmações são feitas e a urgência de questionar nossos parâmetros de referência. Do contrário, corre-se o risco de dizer uma coisa e fazer outra, como quando os museus reivindicam uma cultura amigável e ouvinte e seus gestores continuam presos a critérios individualistas e competitivos. Publicações e exposições em centros de arte abundam em vocabulários como descolonização, restituição, redistribuição, direito de recusa, performatividade, etc. No entanto, esses mesmos centros, independentemente da boa-fé de seus gestores, têm muitas dificuldades em descolonizar suas estruturas e gerar formas alternativas de organização. É verdade que os conselhos de administração são regidos por um código de ética rigoroso e que comportamentos xenófobos, racistas ou transfóbicos são menos tolerados. Apesar disso, a tomada de decisões e os procedimentos são, fundamentalmente, bastante semelhantes aos de um século atrás. Talvez um sintoma disso seja que os museus europeus tendem a ter melhores relações com as populações que vivem em seus territórios de origem do que com as comunidades migrantes que estão localizadas em seus arredores mais próximos, que são frequentemente usadas para implementar programas públicos, gerando experiências que às vezes são frustrantes para essas comunidades.
[arquivo99edd]
Para a maioria dos museus, inclusão e acessibilidade são os desafios mais relevantes. A intenção é louvável. Acredita-se que basta eliminar barreiras e que as pessoas conheçam a história da arte ou as conquistas da humanidade para que esta sociedade, à qual as instituições servem, possa melhorar. Entretanto, se a ordem em que essas propostas se inscrevem não for questionada por outras epistemologias, a erudição adquirida apenas aumenta o peso do passado ou das ideias sobre nossos ombros, reafirmando o status quo e impedindo qualquer possibilidade de ruptura. Entidades culturais ocidentais assumem que, para um artista ou uma comunidade periférica, o que é substancial é estar lá. Diferentes opções não são levadas em consideração. Os excluídos da história única podem ser “valorizados” com um pouco de esforço, da sua parte ou da parte das entidades que os acolhem. Talvez esses autores não tenham aproveitado — acredita-se — as oportunidades necessárias. Ou, naquela época, os especialistas não eram capazes de captar o bem e o belo das manifestações artísticas que ultrapassavam o padrão. Mas, às vezes, esse reconhecimento só ocorre por meio da absorção ou identificação com a cultura “aceita”. A frase onipresente que apareceu nos cartazes da 60ª Bienal de Veneza (2024), “esta é a primeira vez que este artista expõe na Bienal”, e sua inserção em um dispositivo expositivo colonial indicavam isso claramente. Não se trata de entrar no sistema, mas de sair dele. Mais do que "chegar" ao museu, devemos incentivar um êxodo, uma fuga dos limites (auto)impostos. Descolonizar não significa apenas restaurar. Significa emendar e curar. A reparação não pode vir da pessoa que causou o dano. Serão os povos que sofreram a desapropriação que decidirão o que fazer e como fazê-lo. Não basta renovar o museu. O essencial é imaginar, a partir de suas ruínas, outras histórias, dispositivos e formas de organização.
[arquivo5d115]
Há algum tempo, o crítico italiano Marco Baravalle propôs habitar o museu, em vez de visitá-lo. O verbo “habitar” vem do latim habitare, que significa “ter repetidamente”, tornar algo ou um território seu. Isso é diferente de algumas abordagens anedóticas e literais, frequentes em certas áreas da arte contemporânea, que consistem em organizar uma refeição ou um evento recreativo. Pode-se dizer que habitar é o modo de ser e estar no mundo. Habitar um museu implica que a sociedade o torne seu. Entendendo-o como um espaço de experimentação institucional, ou seja, como um espaço em que se negociam os nossos maiores desejos e os nossos piores medos; e no qual, ao fazê-lo, outros universos podem ser inventados. O museu habitado não é organizado por temas, gêneros ou estilos. Ela é articulada com base em relacionamentos. Em vez de delimitar e representar os marcos da história nacional, o museu habitado se desloca para a fronteira, porque é ali que, seguindo Gloria Anzaldúa, se dá a reconstrução das identidades coletivas da diáspora ou daquelas situadas além da colonialidade. Por isso, é fundamental reduzir a escala e tecer uma rede de micro-histórias com o objetivo de distinguir que o território em conflito, pelo simples fato de ser compartilhado, abriga mais histórias do que aquelas que compõem a narrativa nacional. Essas histórias se alimentam do que cada uma nega sobre a outra, e entre a negação mútua se cria o espaço em que se configura o rumor da narrativa da população expulsa, que foi reprimida e que se estabelece na contramão das demais. “Serei capaz de pertencer sem pertencer? Sendo cidadão, sim; mas de segunda classe. Talvez não seja um pertencimento sem pertencimento, ou melhor, um pertencimento, digamos, um pertencimento? Continuam sendo duas posições em tensão que deveriam ser excludentes e, no entanto, são duas posições cuja sobreposição configura uma identidade social.”
[arquivado20b2]
Acostumados como estamos ao fato de que somente aqueles que habitam um território desfrutam de sua própria narrativa, não conseguimos construir uma história em que as narrativas tenham mais a ver com relacionamentos do que com identidades. Ao contrário destes últimos, os primeiros não são fixos. Para além de classificações reducionistas como “arte catalã”, “espanhola”, “latino-americana” ou mesmo conceitos mais recentes como “afro-americana”, devemos falar dos fluxos e encontros que ocorreram em ambos os lados do Atlântico. Por outro lado, se Foucault entendia a imobilização das pessoas na prisão como uma forma de controle, hoje este se exerce a partir da mobilidade. A diáspora se tornou um estado de deportação permanente, que é a condição de muitas pessoas sem voz na história. Migrações forçadas, deslocamentos planejados, exílios fazem parte da nossa condição. Os silêncios da história são marcados por eles.
Em sua introdução ao livro de Stefano Harney e Fred Moten, Jack Halberstam mencionou a famosa história de Maurice Sendak: Onde Vivem os Monstros. Para Halberstam, o protagonista da narrativa se vê imerso em uma jornada para um mundo que não é mais aquele que ele deixou, mas que também não é aquele para o qual, a princípio, ele planejava retornar. Para ele, esse é o elemento mais importante do texto de Harney e Moten. Não podemos imaginar um futuro quando partimos de uma realidade injusta, cuja forma de conhecimento nos é imposta e não nos permite ver além de seus limites. É impossível acabar com o colonialismo se lutarmos com suas ferramentas e verdades. É inevitável que nos encontremos em um espaço abandonado pelo que é regulado e normativo. É um espaço indomável, fronteiriço, que existe além da razão colonial, não é uma utopia idílica, existe em muitas situações: no jazz, na improvisação da performance, no ruído, no enigma do que é poético. Este “outro lugar” já está presente em nosso desejo. Como diz Moten: “Os sons desordenados que chamamos de cacofonia serão sempre considerados extramusicais precisamente porque ouvimos algo neles que nos lembra que nosso desejo por harmonia é arbitrário e, em outro mundo, a harmonia soaria incompreensível. Ouvir cacofonia e ruído nos diz que existe uma natureza selvagem além das estruturas que habitamos e que nos habitam.”
[arquivo53806]
“Onde está a arte?” perguntam-se os nossos interlocutores. A resposta seria: “Em todos os lugares”. Isso não significa dissolver a arte em uma visão estetizada da vida cotidiana e da política, fomentada pelo consumismo e pelos novos fascismos, na qual todos são artistas ou consumidores felizes. Essa “arte” residiria na sua própria exterioridade, na daqueles que participam criticamente na construção de uma história partilhada. Cada um de uma posição e maneira específica de fazer as coisas, em uma instituição que está por vir.